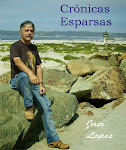O pacífico e vegetariano peixe-boi amazônico é quase um ícone daquela região, não só porque foi caçado quase até a extinção, mas por se tratar de um mamífero aquático de características únicas. Segundo revela pesquisa de seus DNAs mitocondriais, todos os animais da família dos Sirenios como o peixe-boi amazônico, o manati, a vaca marinha africana e o dugongo são descendentes de animais terrestres que retornaram à água. Contrariando a história da evolução que registra a vida inicialmente surgindo nos mares e, posteriormente, adaptando-se a terra, alguns animais, inexplicavelmente saudosos da vida aquática, fizeram a viagem de volta e tornaram-se mamíferos marinhos como as baleias e os golfinhos. Mas quem eram esses retornantes? Ainda não se sabe, não há registros fósseis confiáveis que indiquem com precisão qual a morfologia das espécies que se adaptaram, contudo, abundam indícios que se tratava de paquidermes possivelmente anfíbios parecidos com hipopótamos e, quase certamente, parentes distantes destes.
O pacífico e vegetariano peixe-boi amazônico é quase um ícone daquela região, não só porque foi caçado quase até a extinção, mas por se tratar de um mamífero aquático de características únicas. Segundo revela pesquisa de seus DNAs mitocondriais, todos os animais da família dos Sirenios como o peixe-boi amazônico, o manati, a vaca marinha africana e o dugongo são descendentes de animais terrestres que retornaram à água. Contrariando a história da evolução que registra a vida inicialmente surgindo nos mares e, posteriormente, adaptando-se a terra, alguns animais, inexplicavelmente saudosos da vida aquática, fizeram a viagem de volta e tornaram-se mamíferos marinhos como as baleias e os golfinhos. Mas quem eram esses retornantes? Ainda não se sabe, não há registros fósseis confiáveis que indiquem com precisão qual a morfologia das espécies que se adaptaram, contudo, abundam indícios que se tratava de paquidermes possivelmente anfíbios parecidos com hipopótamos e, quase certamente, parentes distantes destes.A informação mais interessante acerca desses mamíferos aquáticos diz respeito justamente a seus ancestrais. Os testes revelam que animais, cujo habitat é tão distante como os dugongos que vivem no sul da Austrália e os peixes-bois amazônicos, são descendentes de uma mesma linhagem, isto é, seus ancestrais são comuns. Isso tanto pode revelar que suas origens remontam a Gondwana, o supercontinente que teria antecedido a atual distribuição de terras secas no Planeta, como pode indicar que houve uma migração de longuíssima distância por parte desses animais, o que parece bem pouco provável.
De qualquer forma, a docilidade e a lentidão de movimentos dos peixes-bois quase os levaram a extinção. Os ribeirinhos da Amazônia viam (alguns ainda veem) no animal uma formidável fonte de proteínas de fácil acesso, de modo que a caça era generalizada, não respeitando quaisquer regras. Aproveitavam-se quando os animais vinham à tona respirar, colocavam em suas narinas tampões que os sufocavam, de modo que os bichos permaneciam na superfície o tempo necessário para serem mortos a pauladas. A crueldade da caça e o grande número de mamíferos abatidos levou as autoridades a proibir sua caça. Ainda que a proibição continue em vigor, é bastante normal no Mercado Público de Manaus, encontrarmos bancas de peixe vendendo carne de peixe-boi. A desculpa dos comerciantes é que o mamífero enroscou-se em uma rede destinada à captura de peixes e acabou se afogando, daí os peixeiros estarem aproveitando sua carne para comercialização.
O nosso peixe-boi é o único Sirenio que vive exclusivamente em água doce, os demais vivem em estuários onde as águas dos mares se misturam com as dos rios, ou vivem somente em água salgada. Por isso, como o manati é encontrável desde o litoral da Bahia até a Flórida, há uma zona de interseção de habitats nos deltas do Orinoco e do Amazonas onde o peixe-boi acaba convivendo com o manati. Pesquisadores do museu Emílio Goeldi de Belém encontraram, próximo a ilha de Marajó, um espécime que traz características de ambas as espécies, denotando que, mais do que convivência, houve cruzamento entre o manati e o peixe-boi. Embora o primeiro possa pesar até oitocentos quilos e o segundo não passe de trezentos. Como a natureza é sábia e não permite que a evolução dê saltos, o híbrido de duas espécies distintas como cavalo e asno, por exemplo, não é fértil, sua probabilidade de gerar descendentes é nula, assim, é estultice esperar que venhamos a ter uma nova espécie oriunda do cruzamento dos dois mamíferos marinhos. Portanto, o cruzamento de dois bichos tão diferentes é um mero acidente de percurso sem maiores consequências para a evolução das espécies, o equilíbrio da natureza não está ameaçado.
Por último, para infelicidade dele, um bicho que nem de longe parece peixe, muito menos boi, e é considerado por muita gente preconceituosa um monstrinho disforme e sem graça (feio) - ao contrário do panda, por exemplo - possivelmente não terá chance de sobreviver no nosso desumano mundo que, o mais das vezes, julga o valor dos outros pela aparência. Infelizmente o destino do simpático animal, que não é campeão de beleza por qualquer critério e que tem poucos predadores naturais, está à mercê dos piores e mais arrogantes seres que já pisaram o solo deste Planetinha azul. JAIR, Floripa, 22/10/11.