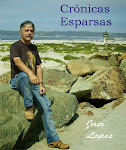Na rua em que eu morava todos éramos muito pobres, a maioria trabalhava nas indústrias madeireiras abundantes na cidade, até que o desmedido apetite por lucros dos matadores de florestas conseguiu, finalmente, acabar com as árvores “comerciais” das matas circundantes. Os madeireiros sofriam de miopia seletiva, viam o lucro fácil que as árvores prometiam, mas não conseguiam enxergar alguns anos à frente quando as florestas deixassem de existir em decorrência de sua ganância. Todos acabaram mudando: de ramo, de cidade e região ou mudando de condição de abastados petulantes para pobres inconformados, alguns mudaram até de nome.
Trabalhar nas madeireiras significava ser uma espécie de escravo, receber um salário de fome que mal dava para as despesas fundamentais como comida e roupas, as quais acabariam pejadas de remendos, então, como possuir algum bem “supérfluo”? Não sei como, mas meu pai, decerto com algum sacrifício franciscano, comprou uma bicicleta. Lembro que eu tinha quatorze anos e fiquei maravilhado com aquela Monark vermelha de barra dupla e aro 26, queixo duro (sem marchas), modelo que, pelos padrões bicicletais de hoje, seria algo como um fusquinha comparado a um carro automático com todas as comodidades adicionais usuais desses carros, contudo “estava de bom tamanho”, como se diria hoje. Embora fosse de segunda mão, estava bem conservada e atendia aos mais recônditos desejos de um piá cheio de energia e vontade de “conhecer o mundo”, ainda que o mundo se resumisse as cercanias da cidade onde houvesse algum caminho bicicletável. Evidente que as matas e os campos estavam, a maior parte, fora desse circuito. É bom que se esclareça que a bicicleta era dele, do meu pai, mas fora liberada para toda a família: neste caso, meu irmão de 16, eu e minha irmã imediatamente abaixo de mim 12, a outra era muito nova ainda, a bicicleta era um modelo para homens adultos e ela ainda não conseguia ajustar-se ao seu tamanho.
Nós três, com maior ou menor dificuldade, acabamos aprendendo a pilotar a máquina, acabamos sendo os únicos a usá-la, meu pai nunca se preocupou com a magrela. Assim, a mim cabia a manutenção: troca de pneus, reparo de câmaras de ar, lubrificação e ajuste dos freios e troca de raios. Era trabalho diário, pois os pneus furavam com facilidade nas ruas esburacadas e cheias de pedras; os freios de mão eram do tipo acionado por hastes ao invés de cabos, em decorrência: complicados e pouco eficientes, ainda bem que o freio de contra pedal funcionava bem.
Pois é, com alguns ajustes que causaram pequenos atritos entre os três usuários, a bicicleta acabou satisfazendo nossas necessidades de locomoção, com um tempo maior de uso para mim, já que quem a mantinha rodando era eu. Vocês talvez não consigam imaginar o que aquela bike representou para o adolescente cheio de energia agora sobre rodas, era uma emoção fantástica que, até hoje, não consigo expressar com exatidão. Mais do locomover-me daqui prá lá e de lá prá cá, a máquina me deu uma sensação de liberdade, a qual não imaginava existir. O fato de transitar por lugares antes muito distantes para chegar a pé; o fato de encurtar o tempo de locomoção à escola a aos lugares aos quais tinha que ir a mando de minha mãe, costureira, que sempre necessitava de aviamentos e outros detalhes para confecção de suas costuras; o fato de ver o espaço que me cercava se movendo para trás com velocidade que eu podia variar a meu gosto. Tudo isso era um mundo novo que me trouxe na vida um sabor até então nunca sentido. Tornei-me um centauro metade bike metade guri, uma entidade que se locomovia por rodas de borracha e carregava um cérebro pensante que a tudo via e a tudo analisava a partir de um ângulo inaudito.
Havia sonhos, vento na cara, derrapagens, curvas, aceleração, freadas súbitas, disputas com outros ciclistas, subidas de lareiras íngremes, descidas perigosas, joelhos ralados e outras escoriações mais ou menos leves, passeios extenuantes, idas a lugares deslumbrantes, paisagens novas, férias, natação em rios distantes e o primeiro namoro. Foi o período de emoções mais intensas de minha vida infanto-adolescente. A bike representou o rito de passagem da bisonhice inocente à mobilidade altiva do garoto do interior. Minha primeira namorada, Nelci, a conheci no ginasial, mas ia a seu encontro de bike, tão mais rápido quanto permitiam os músculos de minhas pernas de centauro juvenil.
Hoje a atitude politicamente correta dita que andar de bike é saudável e preserva a natureza, naquele tempo não existia nada que incentivasse o ciclista mas, sem dúvida, ter horizontes alargados por um veículo como a bike é tão bom hoje como o foi à cinquenta anos. “Minha” bike ocupa um lugar cativo nas minhas melhores lembranças, ela sempre fará parte da minha vida, nada que veio antes compete com o legado que ela deixou, e nada que veio depois apagou sua presença marcante na minha formação de jovem. JAIR, Floripa, 11/01/11.