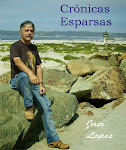No fim da década de quarenta o mundo ainda sofria as sequelas da guerra, mas a economia dava mostras de recuperação em todos os setores e em todos os continentes. No Brasil não era diferente, tendo contribuído com sua parte contra as forças do mal que pretendiam dominar o Planeta, o país apresentava agora um novo vigor que atingia comércio e indústria. Dos prestadores de serviços aos industriais, todos expandiam suas empresas visando um público consumidor maior, mais esperançoso e otimista. Em Palmeira, cidade cercada por pinheirais milenares, várias madeireiras novas iniciaram suas atividades e outras passaram a investir mais. As Indústrias Malucelli, até então apenas uma forte serraria que explorava as araucárias na localidade de Pinheiral de Baixo, aproveitando a boa maré, também resolveu montar em Palmeira um fábrica de compensados e móveis.
Construídos os barracões, todos de madeira, compradas e instaladas as máquinas novas como, serras circulares, serras de fita, prensas, lixadeiras, imensos tornos com capacidade de tornear toras, caldeiras para produzir vapor que moveria geradores de eletricidade e toda a parafernália própria de uma indústria madeireira moderna, iniciaram a construção de “vilas” para seus empregados. Assim, surgiram as modestas casinhas de tábuas brutas, três quartos, sala e cozinha, numa das quais passei minha infância. Nossa “vila” se situava em frente à parte da indústria que cuidava da transformação das toras em lâminas das quais se fariam os compensados, matéria prima de grande parte dos móveis que seriam fabricados em outra parte da empresa. Por coincidência, a casa que morávamos era em frente ao portão principal da fábrica, como a chamávamos. Dada essa localização privilegiada, meu pai só atravessava a rua para adentrar aquela empresa que era seu trabalho desde sempre e que ocuparia seu corpo e mente até a morte. Nós éramos testemunhas oculares das entradas e saídas dos operários que ali ganhavam os níqueis que os impediam de morrer de fome, mas os compulsavam a viver uma vida beirando a miséria no dia-a-dia.
Meu pai, vendo a possibilidade de atender a demanda daqueles pobres assalariados por mercadorias de primeira necessidade, resolveu junto com seu irmão mais novo, Arino, montar um comércio com preços acessíveis naquela mesma casa em que morávamos. O ponto era ideal, todos os empregados por ali passavam quando chegavam e quando saíam do trabalho. Meu tio Arino tinha algum dinheiro oriundo de um caminhão que havia vendido, meu pai entraria com o trabalho e a construção do imóvel, e eles seriam sócios no que passou a se chamar, Armazém de secos e molhados Arino Silva. Obviamente fazendo jus ao dinheiro que tio Arino havia empregado no negócio. Para isso, construiu-se um imóvel na frente da casa onde passou a funcionar o comércio. Cabe esclarecer que “Armazém de Secos e Molhados” é expressão legal e contábil de um estabelecimento que se dedique à venda tanto de produtos como feijão, trigo, arroz e batatas, (secos) como líquidos desde azeite e vinagre até bebidas alcoólicas como cerveja e cachaça (molhados), passando por sabão em barras, panelas, frutas, tamancos, alpargatas Roda e até bacalhau. Neste particular, o negócio como era chamado o comércio de meu pai, era uma espécie de boteco, onde a freguesia tomava umas e outras enquanto era atendida nos seus pedidos de “compras do mês”, modalidade muito em voga na época. Fregueses assalariados que só recebiam salário no fim do mês, eram atendidos e, para facilitar o pagamento, costumava-se anotar no “caderno”. Era o ano de 1958, e o negócio passou a prosperar com freguesia cativa mais os fregueses eventuais. Porque os fregueses trabalhavam até ao meio dia apenas, os sábados eram particularmente estafantes, os usuais bebedores de cerveja e bebidas fortes costumavam encostar os cotovelos no balcão e prolongar suas conversas até o estabelecimento fechar, às 19 horas.
Trabalhávamos lá de segunda a sábado, meu irmão de 14 anos e eu que na ocasião tinha 12, nos sábados a tarde nosso pai nos ajudava. O salário que ganhávamos era quase simbólico, o que valia no trabalho eram os freqüentadores com suas manias e idiossincrasias e as situações engraçadas ou típicas que ocorriam por ali. Já tive ocasião de citar no subtítulo da crônica “A fonte e as galinhas”, que existia um apontador de bicho chamado Riograndino o qual “fazia ponto” no negócio e costumava tomar capilé e comer um sanduíche de mortadela como lanche todos os dias. Capilé, para quem não sabe, é uma espécie de calda ou xarope vermelho como cereja, feito com suco de avenca, bebida refrescante que se faz ao misturar essa calda com água. Outra coisa interessante que ocorria lá, usualmente aos sábados, era uma aposta que consistia em oponentes disputarem quem conseguia primeiro: tomar uma cerveja em um prato com colher como se fosse sopa, versus comer cem gramas de queijo minas “a seco”, ou seja, sem qualquer acompanhamento líquido para “lubrificar” a boca. Geralmente o tomador de cerveja com colher vencia. Uma vez, como sempre num sábado, lá estavam alguns fregueses conhecidos que gostavam de uns gorós, um deles era bem jovem, uns vinte e poucos anos, e forasteiro na cidade. Pois bem, esse jovem que se chamava Hildebrando desafiou os demais afirmando que comeria um copo de vidro. Parênteses, três copos eram usuais nos botecos daquela época: Americano, também chamado “liso” (200 ml), martelo (100 ml) e dedal (50 ml). O Hildebrando afirmou que comeria um martelo e deixaria apenas o fundo muito espesso, sua aposta era para que os outros pagassem suas despesas, as quais eram apenas uns copos de pinga. Não é que o sujeito, com jeitinho, comeu o copo! Sobrou só o fundo! Eu pensei lá com meus botões: esse carinha vai parar no hospital com alguma lesão grave no estômago, acho que não mais o verei por aqui. Santa ingenuidade! O sujeito apareceu na segunda feira como se nada tivesse acontecido. Sou testemunha ocular, auditiva, tátil e olfativa que o caboclo comeu o copo e continuou vivendo normalmente.
Tudo corria bem nesse ano de 58 e no seguinte até lá pelo segundo semestre de 60, foi quando os Malucelli, donos da fábrica que já explorava seus empregados ao máximo, viram a possibilidade de ganhar mais ainda. Observando que o negócio de meu pai e tio ia muito bem, resolveram fazer concorrência desleal. Nas dependências da fábrica abriram um “armazém”, sem nome, sem registro na associação do comércio, mas que vendia os mesmos produtos, embora de qualidade inferior, de nosso comércio e que descontava as despesas dos empregados na folha de pagamento. Os empregados jamais conseguiam se livrar de suas dívidas e, como a maior parte já estava devendo no “caderno” do armazém de meu pai, também deixaram de pagá-lo. Foi a bancarrota do negócio que ia tão bem, meu pai se viu obrigado a fechá-lo, e lá se foram o Jair e seu irmão trabalhar para os mesmos crápulas que haviam quebrado meu pai. Jogo sujo era (dizem que ainda é) com eles mesmos!
De alegre balconista que fui, passei a operário mal remunerado dos oligarcas Malucelli, minha audição atesta até hoje o trauma acústico que sofreu quando fui ajudante de serra, sem carteira de trabalho, sem direito a férias e ganhando meio salário mínimo. A máquina era operada pelo senhor Dinarte e também feriu os ouvidos dele com centenas de decibéis que produzia. Trabalhar na fábrica era uma tortura só conhecida através de livros que retratam o início da revolução industrial na Inglaterra do século dezenove. Trabalhei quase quatro anos naquela casa de malucos, cujo labor enchia as burras dos Malucelli, só me livrei quando, finalmente, surgiu uma luz em minha vida que me guiou até a FAB, onde servi por trinta anos. O negócio de meu pai e tio tornou-se apenas uma lembrança tênue duma infância e adolescência felizes no velho burgo de Palmeira. JAIR, Floripa, 12/01/11.