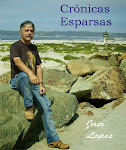Os registros da história da humanidade nos contam que o Homo sapiens, ao contrário de muitos outros animais, jamais passou por período de vida solitária, vida diretamente desvinculada de seus semelhantes. Quaisquer que sejam os motivos, cooperação para caça, segurança, necessidade imperiosa de reprodução ou simples desejo de convivência, desde os primeiros tempos, os homens formaram grupos. Infere-se, baseado em evidências que na fase de caçadores-coletores, os homens conseguiam “produzir” mais quando em grupos que lhes facilitavam a cobertura de área maior em busca dos frutos ou da caça, assim como a memória de cada um somada a dos outros lhes permitia lembrar quais os sítios mais produtivos ou favoráveis em certas estações, ou onde se encontrava água em determinadas regiões. Assim, grupos minimamente organizados não eram abstrações ou acidentes de percurso, eram imposições que poderiam salvar vidas nas épocas de escassez.
Provavelmente, deve ter havido no passado muitas ocasiões em que as oportunidades inesperadas de caça abundante encorajaram as pessoas a se reunirem em grupos maiores para explorá-las: o arquivo arqueológico apresenta evidências desse tipo de atividade, como restos de bandos de babuínos abatidos no Quênia, há meio milhão de anos; ou um grande número de elefantes abatidos em época similar na Espanha. Provavelmente havia um imperativo categórico que compulsava indivíduos a se reunir para sobreviver, a cooperação não era graciosa, fazia-se necessária. Seria simplesmente impossível explorar com sucesso uma grande variedade de recursos disponíveis aos caçadores-coletores, a menos que se juntassem numa estreita cooperação.
Quando os seres humanos descobriram vantagens em tornarem-se sedentários, quando domesticaram os primeiros animais que lhes forneciam comida, peles para abrigos e companhia; quando, ao invés de apenas colher o que a natureza oferecia, passaram a plantar os primeiros vegetais comestíveis, mais uma vez, a vida coletiva mostrou seus benefícios. Agora, no lugar de bandos errantes, surgiam grupos mais coesos e organizados, agora havia espaço para que famílias pudessem formar-se e que parentes pudessem reunir-se em locais próximos uns dos outros. Assim, formaram-se as primeiras aglomerações chamadas tribos. Essas tribos primitivas tinham como centro a família nuclear, avôs, pais, filhos, tios e sobrinhos. Obviamente, as tribos bem aquinhoadas em matéria de local onde comida e segurança estivessem disponíveis em boa medida, atraíam outras famílias, aparentadas ou não, que se agregavam àquelas e fortaleciam a identidade tribal. De certa forma, a tribo agora formatada por adesões externas, era um grupo coeso que estimulava a formação de outros grupos idênticos que copiavam o modelo que deu certo.
Não há consenso, mas antropólogos modernos estudando os povos primitivos que ainda sobrevivem, estimam que grupos errantes tendiam a ser compostos por vinte cinco pessoas, pois isso permitia maior mobilidade e não esgotava rapidamente os sítios onde se encontravam as colheitas. Contudo, ao formarem aglomerados sedentários, esses grupos familiares se reuniam formando tribos que giravam em torno de quinhentas pessoas. Esse número quase cabalístico permitia a interação sexual entre os indivíduos sem que houvesse cruzamentos entre parentes. Até hoje, seja nas tribos isoladas da Amazônia, seja no out back australiano ou no kalahari africano, grupos tribais estáveis tendem a permanecer em torno de quinhentos indivíduos. A despeito de algumas variações que podem ser explicadas pelas condições locais, o tamanho das tribos em muitas partes diferentes do Planeta chega infalivelmente a quinhentos indivíduos.
Contudo, tribos não são apenas invenções de antropólogos, ansiosos por analisar a vida de povos primitivos, por meio de uma divisão artificial de sua estrutura social. Aliás, a síndrome tribal, se é que podemos arriscar esse rótulo, nos acompanha e nos impõe sua força até na sociedade moderna, nenhum indivíduo contemporâneo pode afirmar que não pertence a tribo alguma. Vejamos, não é só uma maneira de dizer que bandos de punks, emos, góticos e outros indivíduos de comportamento exótico se reúnem em grupo que chamam de tribos, nós todos pertencemos a diversas tribos ao mesmo tempo! A sociedade moderna, talvez até pela complexidade estrutural, manteve e ampliou o conceito de tribo, não há qualquer nação, país ou civilização atual que não se subdivida em tribos que, como conjuntos menores inseridos no universo humanidade, se somam, subtraem, intercalam, pertencem ou não pertencem em relação aos demais.
Engana-se quem acha que as tribos são formadas e apreciadas apenas por jovens. Todos nós adultos que participamos e formamos grupos sociais, participamos de tribos, mesmo que apenas temporariamente. Afinal, quem não pertence a um grupo profissional, quem não estuda ou estudou em escolas, quem não participa de alguma atividade coletiva, quem não joga sua pelada aos domingos, quem não vai ao cinema, ao restaurante, quem não gosta de feijoada, de churrasco. Ora, em qualquer momento estaremos “inseridos” numa tribo, seja na dos oficiais da reserva da FAB, seja na dos blogueiros ou nos leitores de histórias em quadrinhos, dos tuiteiros ou colecionadores de selos. Para muitos, esta é uma forma de investir um tempo em algo que gosta e aprecia, e claro, para também se divertir e relaxar. Dentro da sociedade moderna a tribo é o que mais se assemelha a uma conjunção de interesses e escolhas comuns, a tribo é o conjunto menor que se insere na sociedade como um todo, e é o elo que nos mantém atrelado aos nossos mais arraigados e primevos instintos de sobrevivência, a tribo é a forma crucial de nossa sociedade, forma que permitirá que a humanidade se sustente depois que uma catástrofe, como um asteróide, o qual sabemos que virá, atingir o Planeta e decompor isso tudo que construímos, e só restarem indivíduos errantes. Se, como se supõe, o instinto tribal continuar existindo na sua forma primitiva, a tribo salvará a humanidade. JAIR, Floripa, 12/06/11.
Provavelmente, deve ter havido no passado muitas ocasiões em que as oportunidades inesperadas de caça abundante encorajaram as pessoas a se reunirem em grupos maiores para explorá-las: o arquivo arqueológico apresenta evidências desse tipo de atividade, como restos de bandos de babuínos abatidos no Quênia, há meio milhão de anos; ou um grande número de elefantes abatidos em época similar na Espanha. Provavelmente havia um imperativo categórico que compulsava indivíduos a se reunir para sobreviver, a cooperação não era graciosa, fazia-se necessária. Seria simplesmente impossível explorar com sucesso uma grande variedade de recursos disponíveis aos caçadores-coletores, a menos que se juntassem numa estreita cooperação.
Quando os seres humanos descobriram vantagens em tornarem-se sedentários, quando domesticaram os primeiros animais que lhes forneciam comida, peles para abrigos e companhia; quando, ao invés de apenas colher o que a natureza oferecia, passaram a plantar os primeiros vegetais comestíveis, mais uma vez, a vida coletiva mostrou seus benefícios. Agora, no lugar de bandos errantes, surgiam grupos mais coesos e organizados, agora havia espaço para que famílias pudessem formar-se e que parentes pudessem reunir-se em locais próximos uns dos outros. Assim, formaram-se as primeiras aglomerações chamadas tribos. Essas tribos primitivas tinham como centro a família nuclear, avôs, pais, filhos, tios e sobrinhos. Obviamente, as tribos bem aquinhoadas em matéria de local onde comida e segurança estivessem disponíveis em boa medida, atraíam outras famílias, aparentadas ou não, que se agregavam àquelas e fortaleciam a identidade tribal. De certa forma, a tribo agora formatada por adesões externas, era um grupo coeso que estimulava a formação de outros grupos idênticos que copiavam o modelo que deu certo.
Não há consenso, mas antropólogos modernos estudando os povos primitivos que ainda sobrevivem, estimam que grupos errantes tendiam a ser compostos por vinte cinco pessoas, pois isso permitia maior mobilidade e não esgotava rapidamente os sítios onde se encontravam as colheitas. Contudo, ao formarem aglomerados sedentários, esses grupos familiares se reuniam formando tribos que giravam em torno de quinhentas pessoas. Esse número quase cabalístico permitia a interação sexual entre os indivíduos sem que houvesse cruzamentos entre parentes. Até hoje, seja nas tribos isoladas da Amazônia, seja no out back australiano ou no kalahari africano, grupos tribais estáveis tendem a permanecer em torno de quinhentos indivíduos. A despeito de algumas variações que podem ser explicadas pelas condições locais, o tamanho das tribos em muitas partes diferentes do Planeta chega infalivelmente a quinhentos indivíduos.
Contudo, tribos não são apenas invenções de antropólogos, ansiosos por analisar a vida de povos primitivos, por meio de uma divisão artificial de sua estrutura social. Aliás, a síndrome tribal, se é que podemos arriscar esse rótulo, nos acompanha e nos impõe sua força até na sociedade moderna, nenhum indivíduo contemporâneo pode afirmar que não pertence a tribo alguma. Vejamos, não é só uma maneira de dizer que bandos de punks, emos, góticos e outros indivíduos de comportamento exótico se reúnem em grupo que chamam de tribos, nós todos pertencemos a diversas tribos ao mesmo tempo! A sociedade moderna, talvez até pela complexidade estrutural, manteve e ampliou o conceito de tribo, não há qualquer nação, país ou civilização atual que não se subdivida em tribos que, como conjuntos menores inseridos no universo humanidade, se somam, subtraem, intercalam, pertencem ou não pertencem em relação aos demais.
Engana-se quem acha que as tribos são formadas e apreciadas apenas por jovens. Todos nós adultos que participamos e formamos grupos sociais, participamos de tribos, mesmo que apenas temporariamente. Afinal, quem não pertence a um grupo profissional, quem não estuda ou estudou em escolas, quem não participa de alguma atividade coletiva, quem não joga sua pelada aos domingos, quem não vai ao cinema, ao restaurante, quem não gosta de feijoada, de churrasco. Ora, em qualquer momento estaremos “inseridos” numa tribo, seja na dos oficiais da reserva da FAB, seja na dos blogueiros ou nos leitores de histórias em quadrinhos, dos tuiteiros ou colecionadores de selos. Para muitos, esta é uma forma de investir um tempo em algo que gosta e aprecia, e claro, para também se divertir e relaxar. Dentro da sociedade moderna a tribo é o que mais se assemelha a uma conjunção de interesses e escolhas comuns, a tribo é o conjunto menor que se insere na sociedade como um todo, e é o elo que nos mantém atrelado aos nossos mais arraigados e primevos instintos de sobrevivência, a tribo é a forma crucial de nossa sociedade, forma que permitirá que a humanidade se sustente depois que uma catástrofe, como um asteróide, o qual sabemos que virá, atingir o Planeta e decompor isso tudo que construímos, e só restarem indivíduos errantes. Se, como se supõe, o instinto tribal continuar existindo na sua forma primitiva, a tribo salvará a humanidade. JAIR, Floripa, 12/06/11.