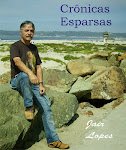Stonewall em toda sua imponência.
Stonewall em toda sua imponência.Meu filho Augusto, funcionário da Prefeitura de San Diego, para compensar suas muitas horas sentado à frente de um monitor, costuma praticar atividades ao ar livre em suas folgas. Pára-quedismo, corridas de fundos como meias maratonas, mergulho esportivo com aqualung, escaladas, acampamentos selvagens e trilhas são alguns dos hobbies que ele adotou. Existe um livro guia de trilhas de San Diego que lista mais de quatrocentas opções entre trilhas “amadoras” de uma hora de duração, até algumas que lhe tomam o dia todo. Então, não é por falta de trilhas que o caminheiro vai permanecer o fim de semana entediado em casa.
Assim, neste sábado fomos trilhar o caminho que leva ao topo do Stonewall, pico situado dentro do Cuyamaca State Park, a 120 quilômetros de San Diego e bem próximo ao Monte Palomar, onde, por muitos anos, encontrava-se o maior telescópio ótico do mundo até que outros maiores foram construídos. A subida é de gradiente mínimo até atingir o topo a 6512 pés, mas, não se assustem, a elevação é medida a partir do nível do mar, a trilha começa um pouco abaixo de 2500 pés.
Esta excursão é em ziguezague suave através de uma floresta totalmente queimada de pinheiros, carvalhos, plátanos e outras coníferas, entremeada de arbustos novos que crescem teimosos entre as pedras e troncos calcinados. Houve um terrível incêndio em 2003 que acabou praticamente com a flora e a fauna do parque, mas, estima-se que em mais duas ou três décadas a flora estará recuperada, e a fauna já dá sinais de grande atividade. A trilha é uma das mais populares do Cuyamaca State Park. A característica mais marcante de Stonewall é que há pedras para escalar, para atingir o pico! Afinal, o muro de pedra não podia ser diferente não é mesmo? Contudo, não há o que temer, os construtores da trilha se preocuparam em colocar corrimões de canos galvanizados nos trechos mais perigosos ou mais árduos.
A localização geográfica do Cuyamaca, a leste de San Diego, lhe proporciona um clima próprio com um ecossistema único, ele recebe muita chuva oriunda da região costeira e é limítrofe ao deserto, portanto, suas florestas são ricas em variedades tanto do sistema litorâneo de terras altas, quanto de transição para o deserto. A paisagem é rica em pinheiros ponderosa e Jeffrey, abeto e cedro, incenso, bem como alguns exemplares maravilhosos de carvalho preto. Em altitudes mais baixas existem trechos de pastagens amplos em direção ao horizonte.
Então, meu filho, sua mulher, minha mulher e eu, iniciamos a subida as doze horas e chegamos ao cume as treze e quinze. A parte mais alta da montanha é uma área de mais ou menos seis metros quadrados, quase plana onde existe um marco; o vento lá é cruciante. Mas, como em caminhadas, quando a gente chega está apenas na metade do caminho, levamos mais uma hora para descer sob um vento frio cortante vindo do Pacífico. Como curiosidade, vale registrar que minha mulher achou um pingente de ouro em forma de coração durante a subida.
Quando chegamos, ao entrarmos no estacionamento do parque fomos informados sobre sua fauna que inclui pumas, só que durante a caminhada topamos apenas com lagartos, cobras, esquilos e algumas aves, que, aliás, são alvos dos observadores de pássaros que estão por lá com suas roupas camufladas, binóculos e máquinas fotográficas com lentes potentes. Os pumas nos deram calote, não apareceram.
Depois da subida fomos almoçar numa cidadezinha chamada Julian a quinze quilômetros do parque. A cidade, construída – ou preservada, não dá para saber - para se parecer com aquelas que vemos nos filmes de faroeste, tem apenas uma rua e uma “atmosfera” perfeita, tem até uma mina de ouro antiga na periferia. Comemos comida mexicana, coisa quase compulsória, pois aqui já foi México e continua sob grande influência cultural daquele país.
Concluindo, o leitor poderá me perguntar como me senti depois da escalada. Respondo, me senti como um sujeito de 65 anos, semi sedentário, o qual usa óculos multifocais que na subida dão a noção exata de distância, mas que na descida informam algo menos que o local correto de colocar o pé e não escorregar; que subiu o Stonewall a passos forçados e sobreviveu tranquilo e com as pernas um pouco doloridas. JAIR, San Diego, 29/05/11.