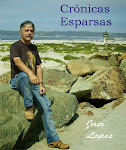Quando da explosão do primeiro artefato atômico num local conhecido por Alamogordo no deserto do Novo México nos EUA, os militares americanos cunharam a expressão Ground Zero para denominar o ponto exato no terreno onde a explosão projetou seu maior impacto. Logo em seguida, a expressão foi útil nos bombardeios nucleares das cidades japonesas de Hiroshima e Nakazaki. Ou seja, a partir do Ground Zero pôde-se traçar uma linha vertical até o centro da explosão, pouco mais de quinhentos metros acima. Nas cidades bombardeadas esses pontos receberam atenção especial dos cientistas por se tratarem de referências onde era possível calcular com grande precisão os efeitos da bomba e, a partir dali, extrapolar cálculos e julgar seu poder de letalidade por círculos concêntricos de raios cada vez maiores. A expressão entrou para o glossário americano e serviu, por diversas vezes, para determinar parâmetros em ocasiões que os cientistas testaram suas bombas no atol de Bikini.
Depois de onze de setembro de 2001, em Nova Iorque, o local onde existiram as torres gêmeas do WTC, ou seja, o Ground Zero do desmoronamento, era conhecido por Hell’s Ktchen desde há muito tempo. Durante algumas semanas, os cientistas passaram a trabalhar em conjunto com os bombeiros para determinar se havia indícios de uso de uma “bomba suja” pelos terroristas. Como sabemos, “bomba suja” é o nome que se dá a um suposto artefato que usa explosivos químicos convencionais para espalhar material radioativo – normalmente césio - contaminante ao redor, com o intuito de causar o máximo de danos. Munidos de contadores Geiger bem sensíveis fornecidos pelo governo federal, os cientistas ficaram muito surpresos ao constatar que existia uma radiação de fundo - inofensiva é bem verdade – bem acentuada no Hell’s Kitchen. Pelas características de intensidade e difusão das radiações não se tratava de uma “bomba suja”, nem era recente.
A explicação para o fato começou em 1942, quando uma equipe chefiada por Enrico Fermi, conseguiu a primeira reação nuclear controlada numa “pilha” atômica na universidade de Chicago. Roosevelt liberou dois bilhões de dólares para criação do projeto Manhatan que construiria as primeiras bombas. Agora faltava a matéria prima para a fabricação dos artefatos. Um coronel americano, de codinome Hen, fora mandado entrar em contato com Edgar Sengier, em Manhatan. O belga Sengier era comerciante de minerais no Congo Belga, país onde se encontravam as maiores reservas de pechblenda, mineral de urânio, e tinha escritório em Nova Iorque. O coronel Hen, depois que identificou-se, cheio de dedos explicou que o governo queria comprar urânio para uso, o qual ele não podia revelar, mas que se tratava de algo crucial para a causa dos aliados. O comerciante perguntou então ao coronel para quando precisava do produto. Ao que o militar responde: “Para ontem”, mas, é claro, diante das dificuldades de obtê-lo, aceitamos que seja para daqui alguns meses. Aí o militar se espantou com o que ouviu. O belga, sorridente, informou que tinha mil toneladas do minério ali mesmo em Manhatan.
Acontece que em 1939, no Congo Belga, um amigo antinazista de Niels Bohr e Enrico Fermi, havia procurado Sengier informando que os nazistas estavam fazendo experiências de fissão de urânio com fito de construir uma bomba atômica. O comerciante vendo possibilidade de bons negócios e temeroso que os alemães ocupassem o Congo se pôs a comprar cada grama de pechblenda disponível no país. Carregou um navio com o mineral e levou para Nova Iorque, onde, num barracão sujo e mal cuidado localizado no Hell’s Kitchen, armazenou o produto em barris para futuro negócio.
O governo americano se apressou a comprar o minério e, graças a essa feliz coincidência, pode fabricar as três primeiras bombas com aquele material, não houve necessidade alguma de importação de urânio durante a guerra.
Contudo, às vezes, a imprevisível serpente chamada história volta sobre si mesma e morde o próprio rabo. Assim, os americanos bombardearam o Japão com armas nucleares feitas graças ao projeto Manhatan; os aliados ganharam a guerra com ajuda maciça dos EUA e sua indústria; o país saiu fortalecido do conflito, confirmou-se como a maior potência bélica e econômica do Planeta e, dono do mundo, passou a espalhar “democracia” onde houvesse interesse econômico. Bom para a América, pior para o mundo, as interferências dos americanos lhes angariaram antipatias e inimizades onde quer que tenham desembarcado seus “marines”. Mesmo depois do término da guerra fria, quando o inimigo preferencial, a União Soviética, já havia recolhido seus ursos cinzentos para dentro de suas fronteiras, a águia calva continuou dando as cartas num monte de lugares. Chechênia, Iraque e Afeganistão são exemplos dessas intervenções. Só que muçulmanos radicais resolveram exportar sua distorcida visão de mundo e esbarraram, no entendimento deles, nas doutrina e economia americanas, daí para compará-los a demônios, não demorou nada. Estava criado o maior antagonismo político religioso da história da humanidade.
Amparados por xeiques nadando em dinheiro proveniente do petróleo que jorra no oriente médio, os grupos radicais muçulmanos prometeram acossar o demônio americano onde quer que se encontrasse. Atentados a bombas em embaixadas na África e atentado contra tropas no Líbano, atestam a determinação desses movimentos. Não demorou muito e o WTC sofreu um ataque em fevereiro de 1993, os radicais prometeram e estavam tentando ferir o demônio na sua própria casa. Finalmente em 11 de setembro de 2001, as torres gêmeas são implodidas por aviões de carreira americanos, levados até elas por aqueles terroristas cegos e surdos para enxergar e ouvir a razão. O círculo se fechou, no mesmo lugar, Hell’s Kitchen, de onde saíram os minérios que foram usados nas bombas que marcaram com fogo a hegemonia dos EUA no mundo, caíram os destroços daqueles que foram os maiores ícones da suprema predominância econômica americana. O Ground Zero, inaugurado pela bomba, agora se situa no coração da metrópole mais importante do país que a construiu. JAIR, Floripa, 30/09/10.