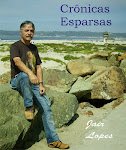Pois é, tenho implicância com “traduções” de nomes de filmes, porque em geral elas tiram o charme, deturpam o nome original e limitam o entendimento do conteúdo da obra. O mais das vezes escondem a intenção do autor do tema, o qual batizou sua obra de modo adequado a chamar a atenção para o que ele acha importante. Não sei em outros países, mas aqui no Pindorama, uma história de mistério da Aghata Christie pode simplesmente virar “O mordomo assassino”, sem o menor pudor. Claro que a técnica de traduzir não é uma ciência exata, contudo, parece que de propósito, os tradutores fazem questão de deixar de lado o nome original e construir um nome mais feio, menos atraente e que não enquadre o tema sob a ótica do autor. Assim o filme, “Marilyn Hotchkiss' Ballroom Dancing & Charm School” (2005), virou “Baila comigo”, nome sem imaginação, insípido mesmo, que lembra essas novelas globais de baixa qualidade que poluem o vídeo de espectadores incautos por aí. Sinceramente, assisti ao filme por acaso, o nome não me atraía, quem quer ver um filme com gosto de picolé de chuchu como parecia ser esse?
Foi uma surpresa tanto maior porque a expectativa era baixa e o filme é cativante. Em primeiro lugar, John Goodman (Steve Mills neste filme, mas Fred Flintstone de “Os Flintstones” e que apareceu em “E aí meu irmão, cadê você?” que já comentei neste espaço), faz um homem que tenta encontrar uma namorada de infância depois de quase quarenta anos, e está muito bem na fita. Depois, Marisa Tomei, a sempre meiga e frágil Marisa Tomei, consegue convencer a platéia na roupa de uma personagem maltratada pelo meio-irmão ciumento, seu olho roxo na primeira aparição, lhe confere uma atração a mais e estabelece uma analogia com a namorada de Steve Mills. Por último, o fantástico ator escocês Robert Carlyle, (Frank Keane) que pelos padrões oliudianos de beleza é um cara out, pois tem os dentes desalinhados, acavalados como se diz. Ele é um padeiro viúvo amargurado que frequenta um grupo de homens viúvos os quais não convivem bem com a solidão.
O mesmo Robert Carlyle foi protagonista de “Hitler: The Rise of the Evil”, filme que descreve a vida de Adolf Hitler da infância até a idade adulta, e como ele se tornou tão poderoso. Sobre esse filme tenho de dizer duas coisas: Carlyle encarnou o melhor Hitler de todos os atores que fizeram o papel do ditador em qualquer época da indústria cinematográfica. Carlyle declarou também que, para fazer o papel, “incorporou” o monstro de tal forma que teve que fazer análise para se livrar do personagem, Hitler havia se tornado um fantasma que o incomodava dia e noite. Vale a pena assistir “The Rise of the Evil”, é um soco no estômago. A história descreve Hitler em sua infância pobre na Áustria; a primeira guerra mundial a partir de seu ponto de vista; e como ele se tornou o homem mais forte na Alemanha. O filme nos mostra como transformou Hitler de um pobre soldado no líder dos nazistas, e como ele sobreviveu às tentativas de matá-lo. Ele descreve seu relacionamento com sua amante Eva Braun, e suas decisões e os inimigos dentro da Alemanha e no interior do partido nazista.
Bem, o escopo do texto não é falar sobre Hitler, e sim comentar o excelente “Baila comigo”. A certa altura Mary Steenburgen (Marienne Hotchkiss que dá nome à escola de dança), afirma para seus discípulos que a dança é uma droga muito poderosa, se usarem esse poder criteriosamente, irão colher suas recompensas. Frank Keane, um padeiro de luto em um estado depressivo, encontra um acidente de carro. A vítima loquaz e perspicaz, Steve Mills, está a caminho de um compromisso agendado há quarenta anos, com uma namorada de infância. O compromisso é no salão de dança de Marienne Hotchkiss, e ele, vendo a morte iminente, pede a Frank para ir em seu lugar. No salão de danças Frank acaba conhecendo Meredith Morisson (Marisa Tomei) e os dois formam o par romântico do filme, mas não sem antes Frank encontrar a terapia que o cura de suas lembranças amargas da esposa. É uma aula de superação e reencontro, vale o ingresso ou o tempo gasto em frente à telinha, até porque Sônia Braga lá aparece, belíssima, como Tina. Ainda mais, se o roteiro não convencesse, o elenco fosse ruim e a direção mambembe, valeria a pena assisti-lo só pela música, desde "Over the Rainbow" no rádio do carro até os personagens dançando ao som de Glenn Miller. JAIR, Floripa, 28/10/10.